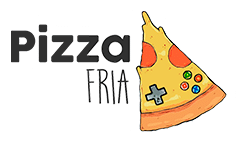Dying Light: The Beast | Review
Lançado em 18 de setembro de 2025, Dying Light: The Beast marca o retorno da popular franquia de zumbis da Techland, trazendo de volta Kyle Crane, protagonista do primeiro jogo, em uma jornada brutal e visceral que mistura sobrevivência, horror e redenção. Após os eventos da expansão The Following, Crane foi capturado e submetido a experimentos que o colocaram em uma encruzilhada entre o homem e o monstro. E é justamente nessa dualidade que o jogo encontra sua força.
Dessa vez, o cenário muda. Sai uma cidade caótica recém infectada e entram florestas densas, pântanos e as ruínas esquecidas de Castor Woods, uma região misteriosa e um tanto melancólica, que parece esconder segredos em cada trilha e casa abandonada. Desde o início, a ambientação transmite desconforto e urgência, amplificados por um design de som intenso e uma dublagem brasileira impecável: sem dúvida, uma das melhores localizações já feitas pela Techland. As vozes soam naturais, com entonações precisas, e as gírias bem adaptadas tornam o jogo mais próximo do público brasileiro. É aquele tipo de localização que não apenas traduz as falas, mas realmente as recria, capturando o tom emocional de cada cena.
Já deu para perceber que eu gostei de Dying Light: The Beast. Mas a partir de agora, eu trago os detalhes dessa experiência a partir de agora em mais uma análise do Pizza Fria!
O mundo selvagem de Castor Woods
Dying Light: The Beast traz uma ambientação um pouco diferente de tudo que a série apresentou até hoje. Enquanto Harran e Villedor eram cidades ameaçadoras ao extremo, Castor Woods é um pouco mais “viva”, orgânica e, porque não dizer, tão ameaçadora quanto. A cada passo, o jogador sente o peso da solidão e o perigo iminente. Desde os ambientes mais fechados, como as florestas, que limitam a visibilidade, até os sons dos infectados que ecoam ao longe, forçando uma constante sensação de alerta. Mesmo durante o dia, o perigo nunca desaparece, pois em ambientes abertos, os infectados continuam chegando — e quando a noite chega, o jogo se transforma em um verdadeiro pesadelo.
Essa ambientação rural funciona como um contraponto ao caos urbano dos títulos anteriores. Se em Harran o medo vinha das ruas apertadas e becos escuros, aqui o pavor é psicológico, quase instintivo. Há uma constante sensação que estamos em vias de sermos atacados o tempo todo, desde o plot inicial. O silêncio entre um ataque e outro é quase tão aterrorizante quanto o som dos gritos dos infectados. As luzes das fogueiras ao longe, o brilho do luar refletido em poças d’água e o farfalhar das folhas criam uma atmosfera que beira o cinema de horror.

O mundo aberto é menos vertical, mas mais denso. Isso não quer dizer que não existam cidades ou vilarejos. Eles estão lá, mas dividem espaço com aldeias isoladas, fazendas destruídas, esconderijos improvisados e laboratórios subterrâneos que contam histórias através de bilhetes, gravações e transmissões de rádio. Além da narrativa principal, a Techland também traz novamente a narrativa ambiental, que brilha em pequenos detalhes. Cada ambiente parece guardar um fragmento de vida perdida, e a sensação constante é a de que algo terrível aconteceu ali há pouco tempo.
A história, sem entrar em spoilers, segue o reencontro de Kyle com sua própria humanidade. Após anos de tortura e experimentos, ele carrega dentro de si o poder da “fera interior” — uma força que lhe concede habilidades sobre-humanas, mas também ameaça consumi-lo. Essa tensão entre razão e instinto é o fio condutor da jornada, e o jogador sente isso tanto nas cutscenes (que nem sempre acontecem na primeira pessoa) quanto na gameplay.

A força da narrativa e o peso das escolhas
Embora The Beast não aposte em reviravoltas grandiosas, ele é um jogo que fala muito mais sobre sentimento e identidade. Kyle é um personagem quebrado, assombrado por tudo que viveu, e o roteiro faz questão de mostrar as consequências da dor e da culpa que o acompanharam desde o primeiro Dying Light. O herói de outrora agora é um homem atormentado, lutando para entender se ainda é humano — e se vale a pena continuar lutando.
As missões principais mantêm o ritmo equilibrado entre ação e introspecção, e as side quests são verdadeiros destaques. É verdade que a maioria delas ainda traz aquela sensação de um cara de recados, mas sabemos que um mundo tão quebrado quanto o de Dying Light, é preciso coragem para sobreviver. Uma dessas missões, por exemplo, conhecemos um personagem que, atormentado pelas próprias ações no passado, decide explodir uma caverna cheia de infectados que ele mesmo foi o responsável por deixá-los lá. Mas uma surpresa acontece ao fim da missão, mostrando que o apocalipse de The Beast não é apenas um cenário de terror, mas um espelho das emoções humanas.
A dublagem em português do Brasil potencializa ainda mais essa carga emocional. Há sinceridade nas vozes, dor nas pausas e um realismo raro nas entonações. É o tipo de trabalho que transforma boas falas em experiências inesquecíveis.

Combate, parkour e o modo Fera
Se o primeiro Dying Light se destacou pela liberdade de movimento e o segundo pela escala, The Beast é o equilíbrio entre os dois. O parkour continua sendo uma das mecânicas mais fluidas do gênero. Correr, saltar, escalar e deslizar entre obstáculos nunca foi tão natural. Atirar zumbis para longe a cada voadora é uma delícia. Cada movimento responde com precisão, e a sensação de velocidade é reforçada pela câmera levemente inclinada e pelos efeitos de som intensos. A Techland refinou cada animação, e agora o peso do corpo é sentido em saltos mais longos, quedas bruscas ou corridas em superfícies molhadas.
O combate corpo a corpo também foi retrabalhado. As armas brancas se degradam com o uso, e isso torna cada encontro mais tenso. As munições para armas de fogo estão cada vez mais raras, e perigosas de usar, já que o barulho atrai infectados. Isso gera uma sensação constante de fragilidade, que se soma ao clima de sobrevivência.

O sistema de progressão é mais enxuto e direto. O nível máximo é 15, mas as escolhas de habilidades fazem diferença. O jogador sente o crescimento de Crane sem precisar investir dezenas de horas em grind. As habilidades ligadas ao movimento e ao combate foram redesenhadas para favorecer o dinamismo e o estilo pessoal, permitindo criar um personagem mais ágil, mais brutal ou mais equilibrado.
A grande novidade, no entanto, é o Modo Fera. Ao causar ou sofrer dano, Crane acumula energia até poder liberar seu lado bestial — uma transformação temporária em que a tela treme, os golpes ganham força absurda e o jogador se torna uma máquina de destruição. A sensação de poder é incrível, mas vem acompanhada de uma sombra: quanto mais se usa, mais o protagonista se distancia da humanidade. É uma escolha mecânica e simbólica ao mesmo tempo, e que dá peso a cada decisão. Em certas situações, usar o poder é necessário; em outras, é perigoso. Essa tensão é o coração do jogo, e reforça o tom psicológico que permeia toda a experiência.

Cooperação em meio ao caos
Um dos elementos que tornam Dying Light: The Beast ainda mais envolvente é o seu modo cooperativo para até quatro jogadores. Assim como nos títulos anteriores, a experiência ganha uma nova dimensão quando compartilhada. A Techland aprimorou a integração entre missões e progressão, permitindo que todos os participantes mantenham seus avanços individuais, evitando a frustração de perder recompensas ou desbloqueios ao sair da sessão.
A ambientação de Castor Woods ganha força quando explorada em grupo. Enfrentar hordas à noite, quando o som dos gritos ecoa entre as árvores e a visibilidade é quase nula, cria momentos de puro pânico coletivo. O jogo incentiva a colaboração, especialmente em tarefas mais complexas, como abrir cofres sob pressão, coletar recursos raros ou enfrentar hordas em áreas de contaminação.

O Modo Fera também assume um papel curioso no cooperativo: enquanto um jogador libera sua transformação, os outros precisam se adaptar à nova dinâmica de combate, já que o campo de visão se altera e o ritmo das lutas muda completamente. É um sistema que traz não apenas diversão, mas também estratégia — alternar entre o humano e o bestial pode decidir o sucesso ou o fracasso de uma missão.
Além disso, o modo coop mantém a tradição da franquia de permitir trollagens e improvisos hilários, sem tirar o peso dramático da narrativa. Ainda é possível empurrar colegas de telhados, atraí-los para emboscadas de infectados ou disputar quem chega primeiro a um ponto de extração. Esses momentos quebram a tensão e dão leveza ao horror constante, lembrando que a camaradagem também é uma forma de sobrevivência.
O horror em sua forma mais crua
A Techland sempre foi ousada no realismo gráfico, mas The Beast vai além. Os zumbis foram recriados com um nível de detalhamento grotesco e impressionante. É possível ver ferimentos abertos, tecidos rasgados e ossos expostos. O sistema de dano herdado do primeiro jogo funciona perfeitamente bem, com desmembramentos e destruição corporal em tempo real. O impacto visual é chocante, mas coerente com a proposta.
Há também um detalhe curioso — e incômodo para alguns: existem zumbis nus ou parcialmente despidos, o que levou o jogo a receber classificações indicativas mais rígidas em alguns países. Não há erotização nisso, mas sim uma busca extrema por realismo. Os corpos despidos funcionam como metáforas visuais da degradação humana: carne exposta, vergonha inexistente e humanidade perdida. É o horror levado ao limite da verossimilhança.

Os inimigos variam entre infectados comuns, rápidos e versões mutantes com comportamentos específicos. O destaque vai para a brutalidade das animações — especialmente ao enfrentar um Volátil ou uma Quimera, cuja aparência mistura repulsa e humanidade. O jogo é um espetáculo visual do horror corporal, um retrato cru da decomposição física e moral.
Apesar de tanta brutalidade, The Beast também sabe dosar o silêncio. Existem momentos em que o jogo desacelera, permitindo contemplar o nascer do sol em meio à destruição – desde que você tenha coragem e habilidade para sobreviver à noite, ou ouvir o som distante do vento entre as árvores. Essa alternância entre calmaria e caos torna o ritmo mais orgânico e reforça a sensação de estar preso a um mundo imprevisível.

Aspecto técnico e performance
Testado no PlayStation 5 Pro, Dying Light: The Beast impressiona pela estabilidade e fluidez. A taxa de quadros é sólida, mesmo em momentos caóticos. O Ray Tracing melhora a iluminação, especialmente à noite, quando o reflexo das lanternas cria um contraste assustador com a escuridão das florestas.
Os detalhes técnicos são refinados — partículas de poeira, folhas movendo-se com o vento e reflexos nos olhos dos infectados — mas o jogo ainda não é livre de problemas. Há aqueles velhos bugs que acontecem em jogos com escopo enorme, com coisas gerados em tempo real: zumbis presos em portas, personagens atravessando paredes ou itens desaparecendo durante combates. Nenhum deles, porém, quebra a experiência de forma significativa.

A trilha sonora, por sua vez, é um elemento marcante. As composições alternam entre batidas eletrônicas discretas e sons orgânicos que reforçam o clima de tensão. Em momentos de fuga, o ritmo acelera; nas partes mais introspectivas, o silêncio domina. Esse cuidado com o som cria uma imersão profunda, tornando cada passo e cada respiração parte do terror.
Vale a pena jogar Dying Light: The Beast?
Sem dúvida. The Beast é o tipo de jogo que mostra como a Techland aprendeu com o passado. É mais denso, mais coeso e mais emocional. Resgata o DNA do primeiro título, mas amadurece suas ideias com uma dose de brutalidade que poucos estúdios conseguem equilibrar com tanta naturalidade.
O retorno de Kyle Crane é poderoso, tanto no enredo quanto na forma como ele traduz o conflito entre humanidade e monstros. O parkour continua impecável, o combate é visceral e o modo fera adiciona uma camada de estratégia e emoção que renova a fórmula.
Se você gostou dos jogos anteriores da franquia, The Beast é obrigatório. E mesmo para quem chega agora, é uma das experiências mais intensas e bem construídas do gênero. Um lembrete de que, às vezes, para sobreviver, é preciso libertar o monstro que existe dentro de nós.
Dying Light: The Beast chegou no dia 18 de setembro para PC, via Steam e Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
*Review elaborada em um PlayStation 5 Pro, com código fornecido pela Techland.
Dying Light: The Beast
BRL 299,90Prós
- Dublagem e localização brasileira de altíssimo nível
- Parkour fluido e responsivo
- Combate visceral e satisfatório
- Ambientação densa e opressiva
- Pode ser jogado tanto solo ou cooperativo
Contras
- Alguns bugs persistentes
- Inteligência artificial de inimigos humanos
- Excesso de gore e nudez que pode causar desconforto